Em 1985, o historiador Barry Mehler tinha um sonho. Sua pesquisa o levava às profundezas do território obscuro da ala extrema direita da academia. Enquanto trabalhava, ele encontrou a sua vida acordada começando a mergulhar no seu subconsciente, colorindo o seu sono. Em seu sonho, seu filho, então com dois anos de idade, estava preso em um carro fugitivo que corria por uma colina abaixo. “O trânsito está indo em ambas as direções, e eu estou no meio da estrada acenando desesperadamente minhas mãos tentando parar o fluxo, a fim de salvar a vida do meu filho”, ele me diz. “É uma metáfora de como eu me sentia”.”
Mehler tinha estado a investigar o que aconteceu depois da segunda guerra mundial a cientistas que, durante o conflito, tinham colaborado com os nazis, eram eugenistas ou partilhavam a sua visão de mundo racial. “Eu estava realmente focado na continuidade ideológica entre o velho e o novo”, diz ele. Ele aprendeu que o medo de algum tipo de ameaça à “raça branca” ainda estava vivo em alguns círculos intelectuais, e que havia uma rede bem coordenada de pessoas que tentavam trazer essas ideologias de volta para a academia e para a política mainstream.
Mehler, que é judeu, compreensivelmente achou tudo isso perturbador. Ele viu imediatamente paralelos entre a rede de intelectuais de extrema direita e a forma rápida e devastadora como a pesquisa eugênica tinha sido usada na Alemanha nazista, aterrorizando-o com a possibilidade de que as atrocidades brutais do passado pudessem acontecer mais uma vez. Era impossível não imaginar que o coração ideológico por trás deles ainda estivesse batendo. “Eu sentia que estava desesperadamente tentando evitar que isso acontecesse novamente”, diz ele. “Pensei que estávamos a caminho de mais genocídio.” Sua voz trai uma ansiedade de que a estabilidade política, mesmo nas democracias mais fortes, se situe num precipício.
O seu medo é algo que eu comecei a partilhar. Mehler disse dos seus parentes que sobreviveram ao Holocausto: “Eles estão preparados para que as coisas deixem de ser normais muito rapidamente.” As suas palavras ressoam nos meus ouvidos. Nunca imaginei que pudesse viver tempos que também me fizessem sentir assim, que pudesse me deixar tão ansioso pelo futuro. No entanto, aqui estou eu.
Eu cresci no sudeste de Londres – numa casa de índios punjabi – não muito longe de onde o adolescente negro Stephen Lawrence foi morto por bandidos brancos racistas em 1993, enquanto esperava por um ônibus. Ele era apenas cinco anos mais velho que eu, e o seu assassinato deixou uma marca na minha geração. A velha livraria do Partido Nacional Britânico ficava na mesma cidade que a minha escola secundária. O racismo foi o pano de fundo da minha adolescência. Mas depois, por um breve momento, as coisas pareciam estar a mudar. O meu filho nasceu há cinco anos, quando a sociedade britânica parecia estar a abraçar a diversidade e o multiculturalismo. Barack Obama era presidente dos EUA. Eu sonhava que meu bebê pudesse crescer em um mundo melhor que o meu, talvez até mesmo um pós-racial.
As coisas deixaram de ser normais. Grupos de extrema-direita e anti-imigrantes tornaram-se mais uma vez visíveis e poderosos em toda a Europa e nos EUA. Na Polónia, os nacionalistas marcham sob o lema “Pura Polónia, Polónia branca”. Na Itália, um líder de direita sobe à popularidade com a promessa de deportar imigrantes ilegais e virar as costas aos refugiados. Os nacionalistas brancos olham para a Rússia sob Vladimir Putin como um defensor dos valores “tradicionais”.

Nas eleições federais alemãs de 2017, Alternative für Deutschland ganhou mais de 12% dos votos. No ano passado, o denunciante Chris Wylie afirmou que a Cambridge Analytica, conhecida por estar intimamente ligada ao antigo estrategista-chefe de Donald Trump, Steve Bannon, estava usando idéias de diferença racial visando os afro-americanos para descobrir como despertar o apoio entre os conservadores brancos nas eleições de meio-termo de 2014. Desde que deixou a Casa Branca em 2017, Bannon tornou-se uma figura-chave para os movimentos europeus de extrema-direita, e agora espera abrir uma academia “alt-direita” em um mosteiro italiano. Isto faz eco aos “racistas científicos” após a segunda guerra mundial, que, quando não conseguiram encontrar caminhos na academia principal, simplesmente criaram os seus próprios espaços e publicações. A diferença agora é que, em parte por causa da internet, é muito mais fácil para eles atrair financiamento e apoio. Na França, em 2018, Bannon disse aos nacionalistas de extrema-direita: “Deixe-os chamar-lhe racista, deixe-os chamar-lhe xenófobos, deixe-os chamar-lhe nativistas. Usem-no como um distintivo de honra”
>
Passei os últimos anos a investigar o crescimento tumoral desta marca de racismo intelectual. Não os bandidos racistas que nos confrontam à vista de todos, mas os bem educados em fatos inteligentes, os que têm poder. E como Mehler, encontrei redes apertadas, incluindo acadêmicos nas principais universidades do mundo, que procuraram moldar os debates públicos em torno da raça e da imigração, gentilmente incutindo na aceitabilidade a visão de que os “estrangeiros” são por sua própria natureza uma ameaça, porque somos fundamentalmente diferentes.
Com esta cabala estão aqueles que olham para a ciência para fundamentar suas visões políticas. Alguns se descrevem como “realistas raciais”, refletindo como eles vêem a verdade científica como estando do seu lado (e porque chamar a si mesmo de racista ainda é desagradável, mesmo para a maioria dos racistas). Para eles, existem diferenças biológicas inatas entre grupos populacionais, tornando nações inteiras, por exemplo, naturalmente mais inteligentes do que outras. Estes “fatos biológicos” explicam de forma clara o curso da história e da desigualdade moderna.
Estes chamados estudiosos são escorregadios – eles usam eufemismos, gráficos de aparência científica e argumentos arcanos. Andando na onda do populismo pelo mundo e aproveitando a internet para comunicar e publicar, eles também se tornaram mais ousados. Mas como Mehler me lembra, eles não são novos.
Esta é uma história que remonta ao nascimento da ciência moderna. A raça parece tão tangível para nós agora, que esquecemos que a classificação racial sempre foi bastante arbitrária. No século XVIII, os cientistas europeus peneiraram as pessoas em tipos humanos, inventando categorias como a caucasiana, mas com escasso conhecimento de como os outros viviam. É por isso que, nos séculos que se seguiram, nunca ninguém conseguia fixar bem aquilo a que agora chamamos “raça”. Alguns diziam que havia três tipos, outros quatro, cinco ou mais, até centenas.
Foi apenas no final do século XX que os dados genéticos revelaram que a variação humana que vemos não é uma questão de tipos difíceis, mas de pequenas e sutis gradações, cada comunidade local misturando-se na seguinte. Até 95% da diferença genética em nossa espécie está dentro dos principais grupos populacionais, não entre eles. Estatisticamente, isto significa que, embora eu não me pareça nada com a inglesa branca que vive lá em cima, é possível que eu tenha mais em comum geneticamente com ela do que com o meu vizinho nascido na Índia.
Não podemos fixar a raça biologicamente porque ela existe como uma imagem nas nuvens. Quando nos definimos pela cor, nossos olhos não consideram que as variantes genéticas para a pele clara são encontradas não só na Europa e Ásia Oriental, mas também em algumas das sociedades humanas mais antigas da África. Os primeiros caçadores-colectores na Europa tinham pele escura e olhos azuis. Não há nenhum gene que exista em todos os membros de um grupo racial e não em outro. Todos nós somos, cada um de nós, um produto da migração antiga e recente. Sempre estivemos juntos no cadinho.

Raça é a contra-proposta. Na história da ciência racial, linhas têm sido traçadas em todo o mundo de muitas maneiras diferentes. E o que as linhas significavam mudou em diferentes épocas. No século XIX, um cientista europeu era pouco convencional ao pensar que os brancos eram biologicamente superiores a todos os outros, assim como ele poderia supor que as mulheres eram intelectualmente inferiores. A hierarquia de poder tinha homens brancos de ascendência europeia sentados no topo, e eles convenientemente escreveram a história científica da espécie humana em torno desta suposição.
Porque a ciência racial sempre foi inatamente política, não nos deve surpreender que pensadores proeminentes usassem a ciência para defender a escravatura, o colonialismo, a segregação e o genocídio. Eles imaginavam que só a Europa poderia ter sido o berço da ciência moderna, que só os britânicos poderiam ter construído uma ferrovia na Índia. Alguns ainda imaginam que os europeus brancos têm um conjunto único de qualidades genéticas que os impulsionou ao domínio económico. Eles acreditam, como disse o presidente francês Nicolas Sarkozy em 2007, que “a tragédia da África é que o africano não entrou completamente na história… não há espaço para o esforço humano nem para a ideia de progresso”.
>
Não deixamos o passado para trás. Há uma linha direta das ideologias antigas para a retórica do novo. Mehler foi uma pessoa que entendeu isso porque essa era a linha que ele estava traçando cuidadosamente.
Após a segunda guerra mundial, a ciência racial tornou-se gradualmente tabu. Mas uma das pessoas chave para ter mantido intacta a sua visão do mundo racial, Mehler aprendeu, foi uma figura sombria chamada Roger Pearson, que está hoje nos seus 90 anos (ele recusou-se a falar comigo). Pearson tinha sido um oficial do exército britânico indiano e depois, nos anos 50, trabalhou como director de um grupo de jardins de chá no que era então conhecido como Paquistão Oriental, hoje Bangladesh. Foi por volta dessa época que ele começou a publicar boletins informativos, impressos na Índia, explorando questões de raça, ciência e imigração.
Muito rapidamente, diz Mehler, Pearson se conectou com pensadores de pensamento semelhante em todo o mundo. “Ele estava começando a organizar institucionalmente os resquícios dos estudiosos acadêmicos da pré-guerra que estavam fazendo trabalho sobre eugenia e raça. A guerra tinha interrompido todas as suas carreiras e, após a guerra, eles estavam tentando se restabelecer”. Eles incluíam o cientista racial nazista Otmar Freiherr von Verschuer, que antes do fim da guerra tinha feito experiências com as partes do corpo de crianças assassinadas enviadas para ele de Auschwitz.
Uma das publicações de Pearson, a Northlander, descrevia-se como uma revisão mensal de “assuntos pan-nórdicos”, com a qual significava assuntos de interesse para os europeus brancos do norte. A sua primeira edição em 1958 queixou-se dos filhos ilegítimos nascidos devido ao estacionamento de tropas “negras” na Alemanha após a guerra, e dos imigrantes vindos das Índias Ocidentais para a Grã-Bretanha. “A Grã-Bretanha ressoa ao som e à visão dos povos primitivos e dos ritmos da selva”, advertiu Pearson. “Por que não podemos ver a podridão que está ocorrendo na própria Grã-Bretanha?”
Os seus boletins de notícias contavam com a possibilidade de chegar a figuras marginais de todo o mundo, pessoas cujas opiniões eram geralmente inaceitáveis nas sociedades em que viviam. Em algumas décadas, Pearson acabou em Washington DC, estabelecendo publicações também lá, incluindo o Journal of Indo-European Studies em 1973 e o Journal of Social, Political and Economic Studies em 1975. Em abril de 1982 chegou para ele uma carta da Casa Branca, com a assinatura do presidente Ronald Reagan, elogiando-o por promover acadêmicos que apoiavam “uma economia livre, uma política externa firme e consistente e uma forte defesa nacional”. Pearson usou esse endosso para ajudar a levantar fundos e gerar mais apoio.
Investigando cientistas raciais ao mesmo tempo foi Keith Hurt, um funcionário público de fala suave também em Washington, que ficou surpreso ao encontrar “redes e associações de pessoas que estavam tentando manter vivo um corpo de idéias que eu tinha associado, no mínimo, ao movimento de direitos civis” nos EUA, “e voltando ao movimento eugênico no início do século passado”. Essas idéias ainda estavam sendo desenvolvidas e promulgadas e promovidas de forma discreta”
“Eles tinham seus próprios periódicos, suas próprias editoras. Eles podiam rever e comentar o trabalho um do outro”, diz-me Mehler. “Era quase como descobrir todo este pequeno mundo dentro da academia.” Estas eram as pessoas que mantinham vivo o racismo científico.
Em maio de 1988, Mehler e Hurt publicaram um artigo na Nação, um semanário progressivo dos EUA, sobre um professor de psicologia educacional na Universidade do Norte de Iowa chamado Ralph Scott. Seu relatório afirmava que Scott tinha usado fundos fornecidos por um segregacionista rico sob um pseudônimo em 1976 e 1977 para organizar uma campanha nacional antiuso (o ônibus era um meio de desregulamentar as escolas transportando crianças de uma área para outra). No entanto, em 1985, a administração Reagan nomeou Scott para presidente do Comitê Consultivo do Iowa para a Comissão de Direitos Civis dos EUA, um órgão encarregado de fazer cumprir a legislação antidiscriminação. Mesmo depois de assumir o seu influente cargo, Scott estava escrevendo para a revista Pearson.
Para aqueles que estão nos extremos políticos, é um jogo de espera. Se eles podem sobreviver e manter suas redes, é apenas uma questão de tempo até que um ponto de entrada se abra mais uma vez. O público pode ter assumido que o racismo científico estava morto, mas os racistas estavam sempre activos sob o radar. Em The Bell Curve (1994), um notório bestseller, o cientista político americano Charles Murray e o psicólogo Richard Herrnstein sugeriram que os negros americanos eram menos inteligentes do que os brancos e os asiáticos americanos. Uma resenha da New York Review of Books observou que eles referiram cinco artigos da Mankind Quarterly, uma revista co-fundada por Pearson e Von Verschuer; eles citaram nada menos que 17 pesquisadores que haviam contribuído para a revista. Embora a The Bell Curve tenha sido amplamente divulgada (um artigo na revista American Behavioral Scientist descreveu-a como “ideologia fascista”), a Scientific American observou em 2017 que Murray estava desfrutando de “um ressurgimento infeliz”. Diante dos manifestantes, ele foi convidado a dar palestras sobre campus universitários nos EUA.
Pearson’s Mankind Quarterly permanece no prelo, publicado por um thinktank chamado a si mesmo de Ulster Institute for Social Research, e acompanhado por uma série de novas publicações – algumas delas online – que abordam tópicos semelhantes. Artigos recentes na revista incluem “racismo num mundo em que existem diferenças raciais” e ligações entre “radiação solar e QI”. A imigração é um tema recorrente.

Numa entrevista por e-mail com o seu actual editor, um bioquímico chamado Gerhard Meisenberg a trabalhar na Dominica, foi-me dito, de facto, que existem diferenças raciais na inteligência. “Judeus tendem a se sair muito bem, chineses e japoneses muito bem, e negros e hispânicos não tão bem”. As diferenças são pequenas, mas a explicação mais parcimoniosa é que muito e talvez a maior parte disto seja causado por genes”, escreveu ele. Meisenberg, como outros nesta rede, condena aqueles que discordam – em essência, o estabelecimento científico dominante – como sendo cegos pela politicamente correta.
“Eu acho que o que estamos vivendo agora é um ambiente muito mais ameaçador”, diz-me Hurt. “Estamos numa situação muito pior do que há umas duas décadas atrás.” Online, estes “realistas da raça” têm um ardente doggedness sobre eles. O autodenominado filósofo canadense Stefan Molyneux, cujo canal no YouTube tem quase um milhão de assinantes, entrega monólogos retóricos há tanto tempo que parecem concebidos para moer os telespectadores na submissão. “A Mãe Natureza é a racista”, disse ele. “Estou apenas a brilhar a luz.” Entre os antigos convidados do seu programa estão a colunista Katie Hopkins e o autor de best-sellers Jordan Peterson.
O que é preocupante é que os pensadores que fornecem o material que está a ser brandido online começaram a afirmar uma presença noutros espaços mais credíveis. No início deste mês, Noah Carl, um cientista social formado em Oxford-, viu a sua prestigiada bolsa no St Edmund’s College, em Cambridge, terminada após uma investigação confirmar que ele tinha colaborado “com vários indivíduos que eram conhecidos por terem opiniões extremistas”. Contribuinte da Mankind Quarterly, Carl havia argumentado em outra publicação que, no interesse da livre expressão, ele deveria ser capaz de dizer que os genes poderiam “contribuir para as diferenças psicológicas entre as populações humanas”. De acordo com uma declaração divulgada por sua faculdade, suas atividades de pesquisa e suas conexões “demonstraram uma erudição pobre, promoveram visões de extrema direita e incitaram ao ódio racial e religioso”.
Os editores da Mankind Quarterly, que tem sido chamada de “revista supremacista branca”, começaram a afirmar sua presença em outras publicações científicas mais amplamente confiáveis. O editor assistente Richard Lynn faz hoje parte do conselho consultivo editorial de Personalidade e Diferenças Individuais, produzido pela Elsevier, uma das maiores editoras científicas do mundo, com a Lancet entre seus títulos. Em 2017, tanto Lynn como Meisenberg foram incluídos no conselho editorial da Intelligence, uma revista de psicologia também publicada pela Elsevier.
No final de 2017, o editor-chefe da Intelligence disse-me que a sua presença na sua revista reflectia o seu “compromisso com a liberdade académica”. No entanto, depois das minhas perguntas a ele e à Elsevier, descobri que Lynn e Meisenberg tinham sido discretamente retirados do conselho editorial até ao final de 2018.
O que antes era inaceitável está a ganhar uma posição sob a bandeira da “liberdade académica” e da “diversidade de opiniões”. Aqueles dentro da academia que uma vez mantiveram opiniões políticas controversas para si mesmos estão rastejando para fora do trabalho. Nos últimos anos, a revista Nature tem até, em editoriais, exortado os cientistas a serem cuidadosos, alertando-os sobre a ascensão dos extremistas que procuram abusar de seus resultados.
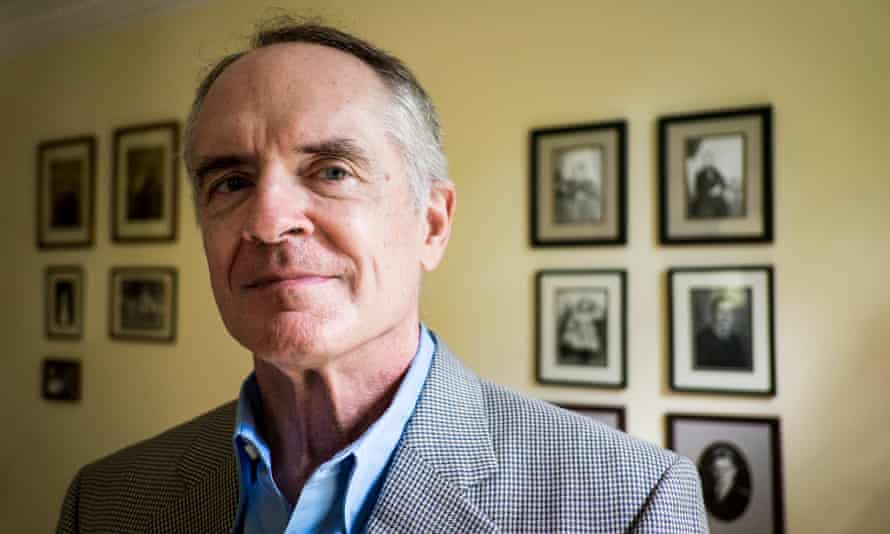
Um dos colaboradores da Mankind Quarterly que se tornou uma figura importante no movimento supremacista branco é Jared Taylor, que fundou a revista American Renaissance em 1990. Uma frase que Taylor usa para defender a segregação racial, emprestada do zoólogo Raymond Hall, escrita na primeira edição da Mankind Quarterly, é que “duas subespécies da mesma espécie não ocorrem na mesma área geográfica”.
As conferências da American Renaissance Foundation de Taylor foram descritas pelo falecido antropólogo americano Robert Wald Sussman como “um lugar de encontro de supremacistas brancos, nacionalistas brancos, separatistas brancos, neonazistas, membros do Ku Klux Klan, negadores do Holocausto, e eugenistas”. Esperava-se que os participantes masculinos vestissem ternos de negócios, para se diferenciarem da imagem de bandido que a maioria das pessoas associa aos racistas. No entanto, um visitante de uma reunião relatou que eles não “hesitaram em usar termos como ‘negro’ e ‘chinoca'”.
Para Hurt, é claro que a ciência racial que prosperou na Europa e nos EUA no início do século 20, manifestando-se de forma mais devastadora na “higiene racial” nazista, tinha sobrevivido até o final do mesmo e além. “A eleição de Trump tornou impossível para muitas pessoas continuar a ignorar estas coisas”, diz ele.
Após ter havido o pano de fundo da escravatura e do colonialismo, depois foi a imigração e a segregação, e agora é a agenda da direita desta época. O nativismo continua sendo uma questão, mas há também um retrocesso contra maiores esforços para promover a igualdade racial nas sociedades multiculturais. Para quem tem uma ideologia política, a “ciência” é simplesmente uma forma de se projetar como acadêmica e objetiva.
“Por que ainda temos ciência racial, dado tudo o que aconteceu no século 20”, pergunta o antropólogo norte-americano Jonathan Marks, que tem trabalhado para combater o racismo dentro da academia. Ele responde à sua própria pergunta: “Porque é uma questão política importante. E há forças poderosas à direita que financiam a pesquisa sobre o estudo das diferenças humanas com o objetivo de estabelecer essas diferenças como base das desigualdades”
Um tema comum entre os “realistas da raça” de hoje é a sua crença de que, por existirem diferenças raciais biológicas, os programas de diversidade e igualdade de oportunidades – concebidos para tornar a sociedade mais justa – estão condenados ao fracasso. Se um mundo igual não está sendo forjado suficientemente rápido, isso se deve a um bloqueio natural permanente criado pelo fato de que, no fundo, nós não somos iguais. “Temos aqui duas falácias aninhadas”, continua Marks. A primeira é que a espécie humana vem embalada em um pequeno número de raças discretas, cada uma com seus próprios traços diferentes. “A segunda é a ideia de que existem explicações inatas para a desigualdade política e económica. O que você está dizendo é que a desigualdade existe, mas não representa uma injustiça histórica. Esses caras estão tentando manipular a ciência para construir fronteiras imaginárias para o progresso social”
até sua morte em 2012, uma das figuras mais proeminentes dessa rede “realista racial” foi o psicólogo canadense John Philippe Rushton, cujo nome ainda é citado regularmente em publicações como a Mankind Quarterly. Ganhou um obituário fulminante no Globe and Mail, um dos jornais mais lidos no Canadá, apesar de ser notório pela sua afirmação de que o cérebro e o tamanho genital estavam inversamente relacionados, tornando os negros, argumentou ele, mais dotados, mas menos inteligentes do que os brancos. Rushton sentiu que “A Curva do Sino não foi longe o suficiente”; seu trabalho foi apresentado no show de Stefan Molyneux.
Quando o livro Race, Evolution and Behaviour de Rushton foi publicado em 1995, o psicólogo David Barash foi agitado para escrever em uma resenha: “Má ciência e preconceito racial virulento pingam como pus de quase todas as páginas deste desprezível livro.” Rushton tinha recolhido pedaços de provas não confiáveis na “piedosa esperança de que, combinando inúmeros pequenos cagalhões de vários dados viciados, se possa obter um resultado valioso”. Na realidade, escreveu Barash, “o resultado é apenas uma pilha de merda maior do que a média”. Em 2019, Rushton continua sendo um ícone intelectual para “realistas da raça” e para membros da “alt-direita”.
Deixe uma resposta